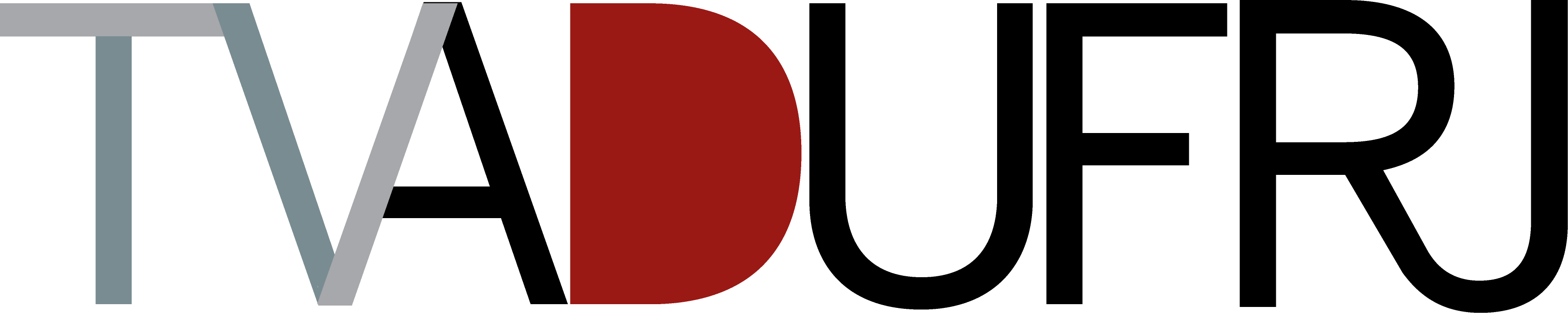Fábio Hepp
Fábio Hepp
Professor Adjunto, coordenador do Laboratório de Anfíbios e Répteis do Departamento de Zoologia,
Instituto de Biologia, e Pesquisador Associado
do Museu Nacional
Livros de autoajuda “ensinando” aos leitores a “arte” de ignorar os problemas do cotidiano têm sido cada vez mais populares mundo afora. Aprender a não se importar com o seu entorno parece ser uma necessidade de sobrevivência do século XXI. Possivelmente, parte da causa esteja ligada à quantidade de notícias repassadas por minuto, a maioria negativa (diga-se de passagem), na era da informação. Ficar alheio às notícias e ao fatídico e aterrador futuro da sociedade e do planeta é uma defesa para patologias psicossomáticas cada vez mais comuns entre as novas gerações (além da frequente medicação receitada associada). Pessoas ao nosso redor reclamam sobre as notícias do país, estado, município, ou mesmo dos seus próprios vizinhos, mas optam por não se envolverem. Por que o fariam? Não é responsabilidade delas, certo? Que diferença fariam? Sem perceberem,contribuem, quase que igualmente, com os problemas tão avidamente criticados através da omissão. Até aí nada de novo! Consequência já conhecida do clássico: não fazer uma ação é uma ação por si só. E as suas implicações, se conscientes, são, ou deveriam ser, igualmente responsabilizadas. Portanto, o não envolvimento é um tipo de envolvimento.
É aí que entram as gestões do ensino público superior do país. As universidades públicas brasileiras (principalmente as federais) têm passado por intensos cortes de orçamento há alguns anos. Junto desta desvalorização orçamentária, muitos setores da sociedade têm criticado incisivamente o ensino público. Acusações envolvem excessos de gastos e baixa produtividade dos servidores e alunos. Tais acusações têm sido extensivamente rebatidas no espaço público e midiático sempre que possível. Não há dúvidas de que o ensino público de nível superior é de excelência no país. Basta lembrarmos dos números do último Ranking Universitário Folha (RUF) em 2024. Das 203 universidades ranqueadas, 112 são públicas (municipais, estaduais e federais) e 91 privadas. A média da nota geral do ranking é de 57,8 para as universidades públicas (64,4 considerando apenas as federais) contra 41,9 para as privadas. A primeira universidade privada no topo do ranking é a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) na 22ª posição. Números como esses nos lembram que, mesmo com as precariedades estruturais dos campi universitários, certamente um dos principais problemas atuais, as universidades públicas brasileiras têm realizado ensino, extensão e pesquisa de ponta no país.
O problema é que o orgulho dos resultados históricos, quase que milagrosos, tem se transformado vagarosamente a vergonha do sucateamento da universidade em um efeito filosófico tipicamente desconstrutivista ao modo “copo meio vazio”. Muitos alunos, técnicos administrativos, funcionários terceirizados e docentes encontram-se, por vezes, diariamente desmotivados. Ao longo dos anos, discursos ácidos relacionados à frustração com as atividades acadêmicas são cada vez mais frequentes e dominantes dentro das universidades. Claro que críticas construtivas são extremamente importantes, assim como o envolvimento do corpo social com as possíveis soluções. Entretanto, ao longo dos últimos anos, a falta de envolvimento e o esvaziamento dos campi foi notória e, de certa forma, incentivada pela universidade.
Durante o segundo semestre de 2024, diversas instâncias da UFRJ suspenderam aulas e demais atividades acadêmicas com base em uma série de motivos. Há questões que de fato exigem suspensão das aulas: eventos acadêmicos periódicos como semanas de integração acadêmica e afins, e problemas de segurança e de fornecimento de estrutura básica, como falta de água e luz. Entretanto, em 2024, novos motivos incluíram jogos de futebol, eventos musicais e reunião do G20 na cidade. Adicionalmente, o CEG estipulou o início do semestre letivo, da maioria dos cursos, apenas para o dia 24 de março (posteriormente antecipado para o dia 17 pelo Consuni).
A imagem que tem sido passada para a sociedade é de um esvaziamento e de uma baixa produtividade na universidade. O que, por sua vez, causa um efeito “bola de neve”, já que há um menor apoio da sociedade e de governantes a aumentos orçamentários, seguido de um ainda maior esvaziamento por alunos e servidores. Para os leitores baby boomers, essa sequência de eventos deve soar familiar. Algo muito parecido aconteceu com as instituições públicas de ensino básico ao longo das décadas de 70, 80 e 90 no país.
Críticas e ataques vindos da comunidade externa às universidades públicas sempre ocorrerão e eventualmente serão mais ou menos frequentes. Até um certo ponto, são bem-vindos. Fazem parte da construção democrática de uma busca por serviços mais eficientes com responsabilidade de gastos. Entretanto, quando a indiferença e o esvaziamento ocorrem por decisões da própria comunidade acadêmica, há certamente uma autossabotagem em andamento, mesmo que não consciente, com riscos altos e iminentes. Com o fogo da crítica de parte da sociedade aceso e a aceitação da própria fervura (ou seria melhor “fritura”, como na política) pela comunidade universitária, estamos na posição do sapo no famoso experimento do sapo fervido. Usado frequentemente como fábula, o sapo encontra a sua morte sem oferecer resistência após ser gradualmente fervido em uma panela. De forma análoga, a universidade pública está contribuindo ativamente, e de bom grado,com a sua própria fervura gradual e aparentemente indolor, com implicações sérias a sua sobrevida. As instâncias gestoras universitárias envolvem todo o corpo social, com seus representantes em conselhos gestores que usualmente tomam decisões democraticamente através de votações. Não há culpados individuais e nominais.
O que me resta, como especialista em anfíbios, é alertar o sapo de que ainda dá tempo de saltar para fora da panela.