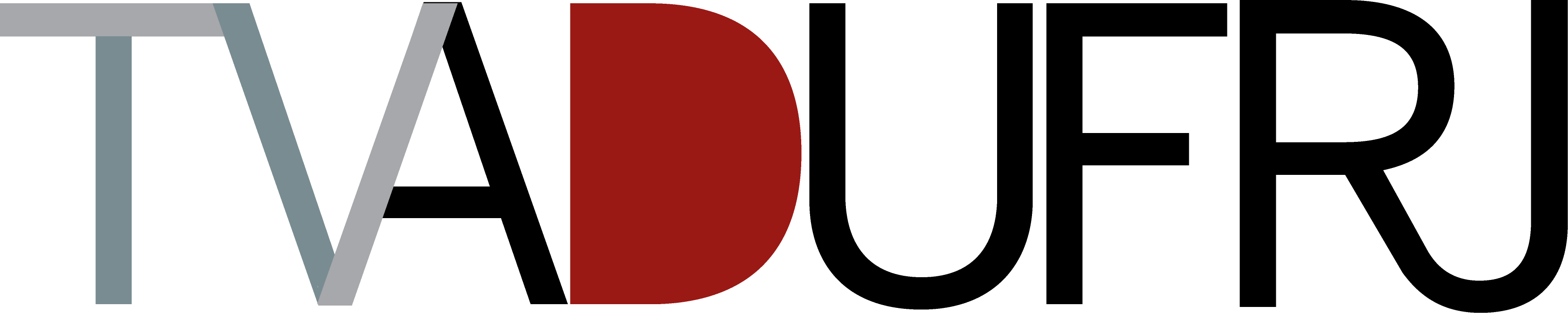Publicoado no Boletim nº 150 - 28/10/2018
ANA BEATRIZ MAGNO
 Na manhã de 31 de março de 1964, a professora Maria Lúcia Teixeira Werneck Vianna deixou a maternidade com seu primeiro filho nos braços e um enorme aperto no peito. Aos 21 anos de idade, Marilu não sabia se João Pedro cresceria num Brasil capturado pela barbárie ou num país reinventado pelos sonhos libertários que sua família acalentava.
Na manhã de 31 de março de 1964, a professora Maria Lúcia Teixeira Werneck Vianna deixou a maternidade com seu primeiro filho nos braços e um enorme aperto no peito. Aos 21 anos de idade, Marilu não sabia se João Pedro cresceria num Brasil capturado pela barbárie ou num país reinventado pelos sonhos libertários que sua família acalentava.
Àquela altura os brasileiros se dividiam entre os que flertavam com o golpismo e os que deviam lealdade à democracia. Os Teixeira eram radicalmente democratas. “Meu pai era homem tão crédulo em seus ideais que no dia que João Pedro nasceu encheu o quarto do hospital de rosas vermelhas e comemorou a chegada do neto em tempos vermelhos”, conta.
O brigadeiro Francisco Teixeira, pai de Marilu e de mais três rapazes, um deles o ex-reitor da UFRJ, Aloísio Teixeira, cumpriu uma carreira pródiga nas Forças Armadas. Simpatizante do Partido Comunista, sempre esteve alinhado aos princípios do nacionalismo. Participou da campanha O Petróleo É nosso, chefiou o gabinete do Ministro da Aeronáutica na Era JK, e no ápice da crise do governo Jango, comandava a 3ª Zona Aérea do país. Era um cargo estratégico para a segurança nacional naqueles conturbados anos. “Meu pai estava pronto para resistir. Tinha certeza que sua tropa resistiria, enfrentaria os traidores da Constituição e garantiria a democracia”.
A esperança e a ilusão do brigadeiro se transformaram em 21 anos de pesadelo. Francisco Teixeira foi preso quatro vezes durante a ditadura. Seu filho Aloísio ficou na cadeia seis meses. Sua casa foi misteriosamente incendiada. Mudaram de endereço várias vezes. A mãe de Marilu não sofreu apenas o terror de ver o marido e os filhos perseguidos. Enfrentou a humilhação de ser declarada viúva de marido vivo. O brigadeiro foi aposentado compulsoriamente e declarado morto para as Forças Armadas. Para a filha, no entanto, ele era o mais vivo dos pais, era literalmente seu anjo da guarda, como conta pela primeira vez em um emocionante depoimento sobre os dez dias de prisão e tortura em 1970:
“Eu estava sendo perseguida. Queriam saber do meu marido, um cientista político cassado pelo regime. Era véspera da Copa do Mundo. Estava em meu apartamento ao lado do prédio dos meus pais, quando três militares tocaram a campainha.
Foi horrível, meus filhos estavam no elevador com meu irmão mais novo. Ele fazia gestos para as crianças não falarem nada. Coitados, eles lembram até hoje. Tinham cinco e seis anos de idade, ficaram nervosos e falaram na frente dos militares que não iam falar nada. Meu irmão correu e avisou ao meu pai. Ele veio correndo para o meu apartamento e disse que só me levariam se o levassem junto. Ele foi preso por minha causa, para me proteger.
Fomos vendados, num fusca, de Botafogo até a Tijuca, no Quartel da Polícia do Exército. Meu pai foi colocado numa cela em frente à minha. Deram uma vassoura para ele, era obrigada a passar o dia varrendo o chão. Um brigadeiro.
Toda hora falavam para mim: ‘olha o papai lá’. A pior parte era descer para o interrogatório. Todo dia, dez dias seguidos. Eles queriam saber onde estava meu marido. Eu não dizia. Eles davam choques em meus braços e me ameaçavam mostrando o pau de arara. Depois me deixavam na cela, ouvindo os gritos desesperados de meus companheiros.
Foi muita angústia, eu passava o tempo fazendo barquinhos de papel. Guardo até hoje. Eu resisti, mas não esqueci. Não esqueci dos efeitos sobre meus filhos, do medo deles, do impacto sobre suas vidas. Não quero que isso se repita com meus netos. Hoje temo por eles. E pelo Brasil.”
Marilu está transformando seu medo em luta. Aposentada, septuagenária, preside a Adufrj com garra. “A universidade está ameaçada. São tempos diferentes. Hoje temos instituições mais sólidas, mas o risco à democracia é real. Sou de uma geração iluminista que encara a luz como a única saída para a produção do conhecimento. Não podemos deixar as trevas e o medo voltarem”, conta a mãe de João Pedro, o primogênito que saiu da maternidade na véspera da mais longa noite brasileira e que ganhou o nome de um bravo líder camponês assassinado. “Precisamos de heróis”