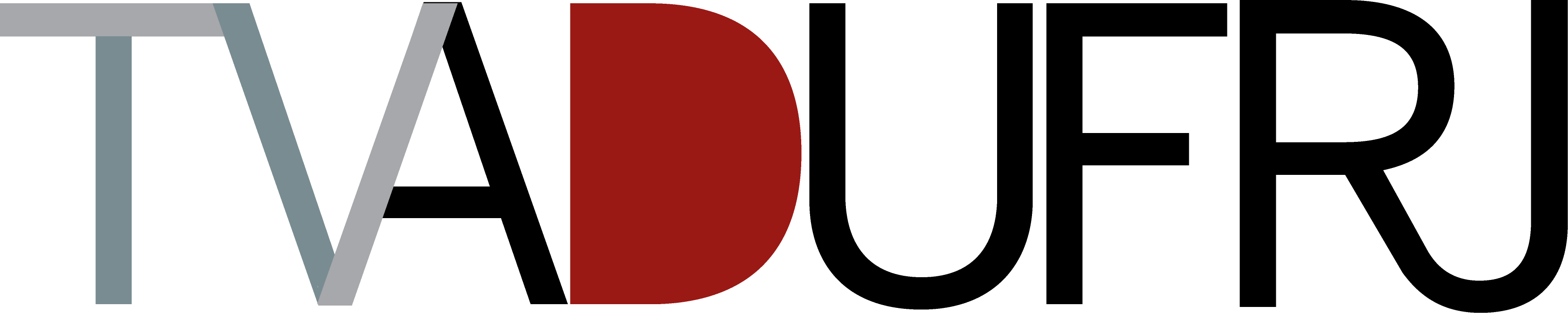Há um provérbio em yorubá que diz: Èyàn kì í mo iyì ohun tó ní, àfi tó bá soó nù. Em tradução livre, quer dizer: O homem raramente aprecia aquilo que tem, até perdê-lo.  Para a UFRJ, foram necessárias quase quatro décadas para apreciar o brilho e a importância de uma de suas estrelas. Nesta semana, a secretaria do Conselho Universitário recebeu uma proposta para homenagear uma das pioneiras nos estudos sobre o negro na academia. Maria Beatriz Nascimento, professora, roteirista, poeta e ativista pelos Direitos Humanos pode ganhar o reconhecimento como Doutora Honoris Causa da instituição, 36 anos após ser assassinada pelo namorado de uma amiga. À época, Beatriz cursava a pós-graduação da Escola de Comunicação (ECO) da UFRJ.
Para a UFRJ, foram necessárias quase quatro décadas para apreciar o brilho e a importância de uma de suas estrelas. Nesta semana, a secretaria do Conselho Universitário recebeu uma proposta para homenagear uma das pioneiras nos estudos sobre o negro na academia. Maria Beatriz Nascimento, professora, roteirista, poeta e ativista pelos Direitos Humanos pode ganhar o reconhecimento como Doutora Honoris Causa da instituição, 36 anos após ser assassinada pelo namorado de uma amiga. À época, Beatriz cursava a pós-graduação da Escola de Comunicação (ECO) da UFRJ.
“Reconhecer Beatriz como Doutora Honoris Causa é reconhecer seu pioneirismo e sua prática política e intelectual, que era completamente implicada na construção da sociedade, no reconhecimento da humanidade das pessoas afro-brasileiras violentadas pelo processo escravagista. Mas rompendo com a historiografia básica que sempre via a população negra restrita à escravidão”, afirma Vinicios Kabral Ribeiro, professor da Escola de Belas Artes e proponente da homenagem.
Para Vinicios, a concessão do título é um legado para futuras gerações. “É uma honra ter a Beatriz entre as pessoas que passaram pela universidade. Toda uma geração de jovens que entra agora na graduação lendo os textos dela será impulsionada por esse legado. Ela oferece as bases para a gente refundar as bases do nosso país, refundar os fundamentos e não mais a dor, a ferida do racismo. É a possibilidade de olhar de uma forma corajosa para o nosso passado”, espera o professor, para quem o Brasil se torna um pouco mais humano se o título for concedido.
O projeto parte da ECO, última casa acadêmica de Maria Beatriz Nascimento, que era natural de Aracaju e pós-graduada em História pela UFRJ. Enquanto cursava o mestrado em Comunicação, com orientação do professor Muniz Sodré, foi vítima de feminicídio, aos 52 anos. Na quarta-feira (4), o relatório final foi recebido pelo Consuni, que ainda não divulgou a data do julgamento. Além de Vinicios, a comissão que defende o título é composta pela diretora da ECO, Suzy Santos, pelo professor Vantuil Pereira e pelo biógrafo de Beatriz, Alex Ratts.
“Levantamos informações que dessem robustez à solicitação. Justificamos o título pelo racismo estrutural, que impediu que em vida ela tivesse esse reconhecimento. Colocamos o pioneirismo com que ela desenvolveu seu conceitos, principalmente em relação aos quilombos”, explica Vinicios. O professor conhece a trajetória de Beatriz desde a sua graduação, em Goiânia, quando foi aluno de Alex Ratts e teve contato com a produção acadêmica da autora. Em 2012, ao ingressar no doutorado na ECO, foi surpreendido. “Quando cheguei lá, fiquei muito curioso pela história, mas me assustei com a ausência dessa memória. Meus colegas não sabiam quem era a Beatriz, muito menos que ela tinha passado pela ECO”, relembra. Para Vinicios, nunca é tarde para reparar. “É um compromisso futuro, mostrar que a universidade está atenta às dinâmicas do presente, e se empenha em reparar essas lacunas”, acredita.
A filha de Beatriz, Bethania Nascimento, vê o título como a continuação do pensamento e do trabalho da mãe. “Se ela estivesse viva, onde estaria Beatriz neste momento? Esse título prova para mim que, de uma certa maneira, ela está viva entre nós, nos guiando. E também em outros momentos, como nos coletivos com o nome dela em outras universidades, como no reconhecimento do coletivo André Rebouças, que foi o primeiro grupo de discussão de negros na academia. É um passo para a gente se encontrar como verdadeiros cidadãos deste país”, define a dançarina profissional, que mora nos Estados Unidos desde os anos 1990. “Quando reconhecermos nossas verdadeira história, tenho certeza de que melhoramos na Educação, no crescimento de outros e em nós que estamos renascendo todo dia”, completa.
Bethania lembra que desde criança via sua mãe falando sobre a questão do negro no Brasil. “Eu ouvia isso repetidamente, e me perguntava o que estava acontecendo com o negro. Fui vendo o mundo e o Brasil como ele é a partir do olhar de minha mãe”, reflete. Beatriz não foi uma mãe convencional para os anos 1970. “Ela tinha uma missão aqui, e era mais do que ser mãe. Meu cotidiano não era de minha mãe me levar na escola. Com sete anos comecei a ir para a escola sozinha. Dez anos depois, com 17, quando vim para Nova York, não sofri. Ela me preparou para isso. Sou uma cobaia de Beatriz Nascimento”, confessa. “Apesar de não ter sido uma mãe convencional, eu e ela tínhamos uma grande amizade. Eu amava minha mãe incondicionalmente”, expressa.
MULHER TRANSATLÂNTICA
“A investigação sobre o quilombo se baseia em parte pela questão do poder. Por mais que um sistema social domine, é possível que se crie aí dentro um sistema diferenciado. É isso que o quilombo é. Só que não é um Estado de poder no sentido que entendemos: poder político, de dominação. Porque ele não tem essa perspectiva. Cada indivíduo é o poder, cada indivíduo é o quilombo”. O trecho é do documentário Ôrí, de 1989, dirigido por Raquel Gerber, com pesquisa e narração da historiadora Maria Beatriz Nascimento. O longa acompanha, entre 1977 e 1988, as atividades do movimento negro nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Alagoas, conectando as pautas políticas e culturais com as tradições de países como Senegal, Mali e Costa do Marfim, localizados na África Ocidental.
Para Beatriz, era preciso enxergar a população negra pelo modo de vida que foi trazido do continente africano para o continente americano. É uma civilização transatlântica, com a dor da diáspora, mas também com uma organização politica e cultural em busca da liberdade. “Toda a dinâmica deste nome mítico, religioso e oculto que é o Ôrí se projeta a partir das diferenças, dos rompimentos numa outra unidade. Na unidade primordial, que é a cabeça, que é o núcleo. O quilombo é o núcleo”, define Beatriz na narração do filme.
Para Alex Ratts, coordenador do Laboratório de Estudos de Gênero Étnico-Raciais e Espacialidades do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás e autor do livro “Eu sou Atlântica”, sobre a trajetória de vida de Maria Beatriz Nascimento, Ôrí foi o primeiro contato com a historiadora, e um divisor de águas. “Teve um grande impacto no que eu fazia. Eu trabalhava com comunidades negras rurais e precisava desta compreensão de quilombo. Durante o doutorado, tive contato com o conceito de quilombo de Beatriz Nascimento e com o material de pesquisa do filme”, conta.
Em 2007, quando foi lançado o livro “Eu sou Atlântica”, houve uma divulgação expressiva pela imprensa e na internet, e uma segunda edição está nos planos de Alex. “Cada vez mais sinto que a universidade tem dificuldade em reconhecer o pensamento de pessoas negras, LGBT e indígenas como propulsor de conhecimento. Você pode passar todo um curso sem ler essas pessoas”, relata. “O livro tem esse papel de mostrar a autoria dela, eu senti a importância de publicar por serem ideias que precisam fluir na sociedade”, completa.
Para o professor Vantuil Pereira, diretor do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos Suely Souza de Almeida (NEPP-DH), Beatriz Nascimento tem dupla entrada no campo acadêmico. “Ela começou a estudar num dos momentos mais difíceis da democracia no Brasil, em 1968. Mulher negra, que vem de Sergipe para o Rio, onde tem contato com alguns acadêmicos negros. Ela é uma das primeiras jovens intelectuais de uma nova geração que passa a pesquisar e discutir a questão racial dentro da universidade, numa época que era crime de lesa-pátria falar de racismo no Brasil”, discorre.
Vantuil falou da valorização da obra de Beatriz. “Estudar a Beatriz, por um lado, é recuperar o sentido histórico da própria luta racial no Brasil, que durante a ditadura foi muito reprimida. No ponto de vista presente, ela cumpre o papel de indicar o diminuto lugar dos professores negros na universidade. Ela foi professora da rede estadual de ensino, mas não foi acadêmica. Foi estudiosa, publicou, mas não ocupou espaço na universidade”, explica. “É uma luz para a universidade neste momento, para pensar o lugar dos professores negros, a importância de recontar a memória negra acadêmica”, conclui o professor.