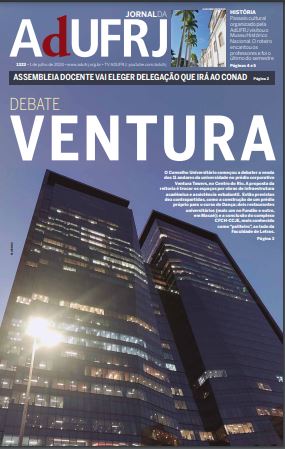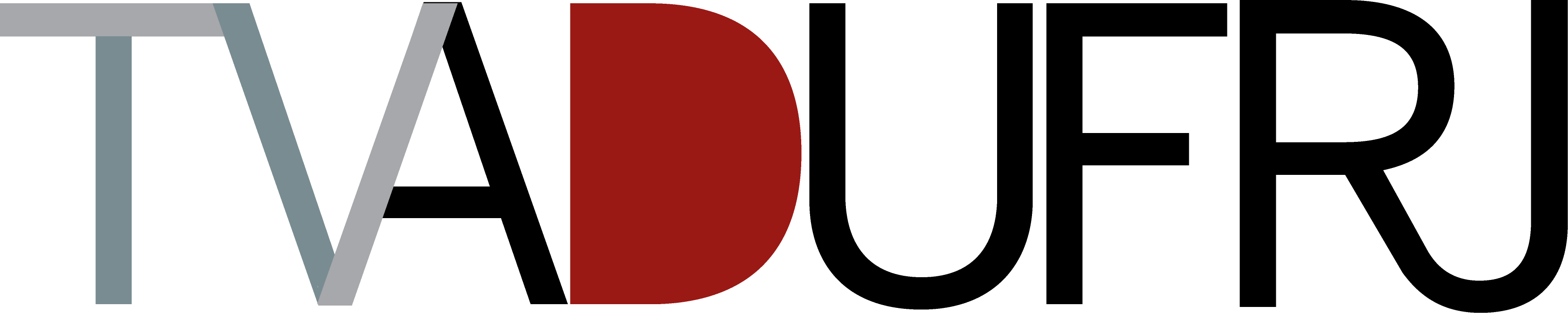Os dias passaram. O sangue nas casas, ruas e vielas foi lavado, mas as cenas do terror dificilmente serão apagadas da memória dos moradores do Jacarezinho. A chacina de 28 pessoas não deixou marcas só nas paredes. “Foi muito, muito tiro. Eles [os policiais] já vieram para isso mesmo. Primeiro, teve o confronto. Depois, veio a matança”, revela uma moradora que não quis se identificar. O medo é uma constante na vida de quem vive na favela. Os moradores só aceitaram falar com a reportagem com a condição de não terem seus nomes, profissões ou rostos revelados. “A gente sempre foi refém. Ou do tráfico, ou da polícia. Nunca tivemos a quem recorrer”, justifica a mulher que vive no Jacarezinho desde que nasceu, há 42 anos.
Seu vizinho concorda. “Não tem como dar o nome não, moça, porque pode sobrar alguma coisa para o nosso lado. Todo mundo que viveu o pesadelo de quinta-feira aqui, tem medo. Ninguém está seguro”, atesta o morador de 49 anos que vive há quase quatro décadas no Jacarezinho. “Praticamente a gente pode afirmar que o único que morreu em confronto foi o policial. E aí eles entraram para se vingar. Deixou de ser operação naquela hora”, avalia.
As análises dos dois moradores são compartilhadas por um dos maiores pesquisadores em segurança pública do Brasil. O professor Michel Misse é coordenador do Núcleo de Estudos em Cidadania, Conflito e Violência Urbana da UFRJ e acredita que o resultado da operação tenha sido gerado por uma combinação de fatores. “Pode ser que haja as duas dimensões: que a polícia tenha se preparado para barbarizar, dada a quantidade de homens (270) e força envolvidos, e que, como a primeira morte que ocorreu foi a do policial, o que se sucedeu foi vingança”, acredita.
O encontro, na véspera da operação, com o presidente Jair Bolsonaro e o governador do Rio, Cláudio Castro, levanta suspeita em relação à chacina mais sangrenta do Rio de Janeiro. “A ação acontece um dia depois e é realizada pela Polícia Civil, que nunca tinha feito algo desse nível”, destaca Misse. “De toda maneira, nenhuma dessas hipóteses se confirma agora, depende de dados, de investigação isenta. No momento, ainda estamos verificando a extensão do massacre”, analisa.
Mas todo esse esforço de investigação pode ser prejudicado por uma série de “erros”. “Chamo de erros, mas a gente sabe que nada é por acaso. Além da chacina, as cenas dos crimes foram desfeitas, há fraude processual, apenas uma pequena parte dos mais de 200 policiais entregou as armas”, elenca. “Ora, todos os policiais, atirando ou não, deveriam entregar suas armas, que precisariam estar identificadas. O fato de só um grupo de policiais entregar as armas não garante que sejam as utilizadas”, aponta.
FALÁCIA
Nos dias 16 e 19 de abril, o professor Michel Misse participou de audiência pública do Supremo Tribunal Federal para discutir a letalidade policial. O debate foi motivado pela Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635, movida pelo PSB para frear a realização de operações nas favelas do estado, durante a pandemia, e julgada no ano passado pelo STF. “A decisão liminar do (ministro Edson) Fachin, confirmada no plenário, abria a possibilidade de operação em caráter excepcional. A discussão que se deu, então, foi sobre quais critérios seriam usados para definir essa excepcionalidade”, explica o especialista. “Havia considerações, mas a polícia se antecipou, chamou a operação de exceptions – uma clara afronta à excepcionalidade e ao próprio Supremo – e alegou aliciamento de menores pelo tráfico”, lembra Misse. “Ora, isso ocorre há 40 anos. Além disso, no relatório em que a polícia relaciona os 27 mortos não é citada essa justificativa, o que demonstra a falácia do argumento utilizado”.
Para o professor, ações em que o próprio Estado viola direitos sempre tiveram apoio de uma parcela da população. “O bolsonarismo é um fenômeno político recente, mas a sua base, antes de Bolsonaro, já defendia e demandava soluções de força. A gente faz pesquisa no Rio de Janeiro desde a década de 90 e pelo menos 25% da população sempre foi favorável à tortura. Então, Bolsonaro se alimenta dessa mentalidade, que sustentou também a ditadura militar”.
MASSACRE
Pedro Cláudio Cunca Bocayuva, professor do NEPP-DH e coordenador do Laboratório do Direito Humano à Cidade e Território, é categórico. “O que aconteceu no Jacarezinho foi um massacre. É mais que chacina, em que há a ideia da carne eliminada. É diferente de genocídio, em que há o extermínio de um povo, um grupo. O massacre é quando a ação vai ficar no registro coletivo, deixa uma marca, é emblemática”, argumenta. “É uma ação que não tem relação com a legalidade. Vigário Geral (1993) foi desse tipo. O Carandiru (1992) foi desse tipo”, destaca.
O professor observa que a sociedade contemporânea tem se tornado mais tolerante à barbárie. “Há um aumento do limiar da violência. O excesso é muito visível e tem um nome: crueldade”, afirma o pesquisador. “A minha tese é que a gente passou da banalização do mal, para a banalização da crueldade. Não é só a quantidade, mas a qualidade do ato. É o assassinato acompanhado de vídeos dos mortos em posições vexatórias”, exemplifica. “Há um desvio ético, um prazer em ver essas cenas”.
RESISTÊNCIA
O momento é delicado para o governo federal, com acentuação da crise sanitária, financeira, ambiental e a realização da CPI da pandemia. “Há um desgaste e quanto mais acuado, mais o governo mostra os dentes. Mas há resistência”, afirma o professor. “Marielle morreu, mas muitas mulheres negras foram eleitas com grande expressão política. Na universidade, a gente tem a presença preta, favelada. No caso do Jacarezinho, os modos de resistência vão acontecer. As forças da favela estão se movendo. É preciso que todos se unam. O cenário é muito adverso”.
 Foto: Tatiane MendesATOS EM 13 DE MAIO - Se em 2020 a pandemia impediu manifestações presenciais em 13 de maio, este ano, elas foram insufladas pela chacina do Jacarezinho, que matou 28 pessoas. O Dia Nacional de Denúncia Contra o Racismo teve atos em 28 cidades brasileiras, na Inglaterra e nos Estados Unidos. A data remonta à assinatura da Lei Áurea e busca, todos os anos, exigir justiça para a população negra do país. “Não vamos ficar calados. Sou a voz do meu filho morto pela polícia”, desabafou Mônica Cunha, fundadora do Movimento Moleque. “Somos as vozes dos nossos filhos assassinados. Nós não parimos bandidos, nosso útero não é fabrica de bandidos”, disse. Ela é mãe de Rafael Cunha, assassinado pelo Estado em 2006 e faz parte da Coalizão Negra por Direitos, organizadora dos protestos no país. O ato, no Rio de Janeiro, aconteceu no Centro da Cidade e foi encerrado nas escadarias da Câmara dos Vereadores. Mais cedo, outro ato marcou o sétimo dia do massacre no Jacarezinho. Rosas brancas, símbolo da paz, foram entregues a quem chegava à favela. Houve também a distribuição de cestas básicas às famílias mais vulneráveis da comunidade.
Foto: Tatiane MendesATOS EM 13 DE MAIO - Se em 2020 a pandemia impediu manifestações presenciais em 13 de maio, este ano, elas foram insufladas pela chacina do Jacarezinho, que matou 28 pessoas. O Dia Nacional de Denúncia Contra o Racismo teve atos em 28 cidades brasileiras, na Inglaterra e nos Estados Unidos. A data remonta à assinatura da Lei Áurea e busca, todos os anos, exigir justiça para a população negra do país. “Não vamos ficar calados. Sou a voz do meu filho morto pela polícia”, desabafou Mônica Cunha, fundadora do Movimento Moleque. “Somos as vozes dos nossos filhos assassinados. Nós não parimos bandidos, nosso útero não é fabrica de bandidos”, disse. Ela é mãe de Rafael Cunha, assassinado pelo Estado em 2006 e faz parte da Coalizão Negra por Direitos, organizadora dos protestos no país. O ato, no Rio de Janeiro, aconteceu no Centro da Cidade e foi encerrado nas escadarias da Câmara dos Vereadores. Mais cedo, outro ato marcou o sétimo dia do massacre no Jacarezinho. Rosas brancas, símbolo da paz, foram entregues a quem chegava à favela. Houve também a distribuição de cestas básicas às famílias mais vulneráveis da comunidade.