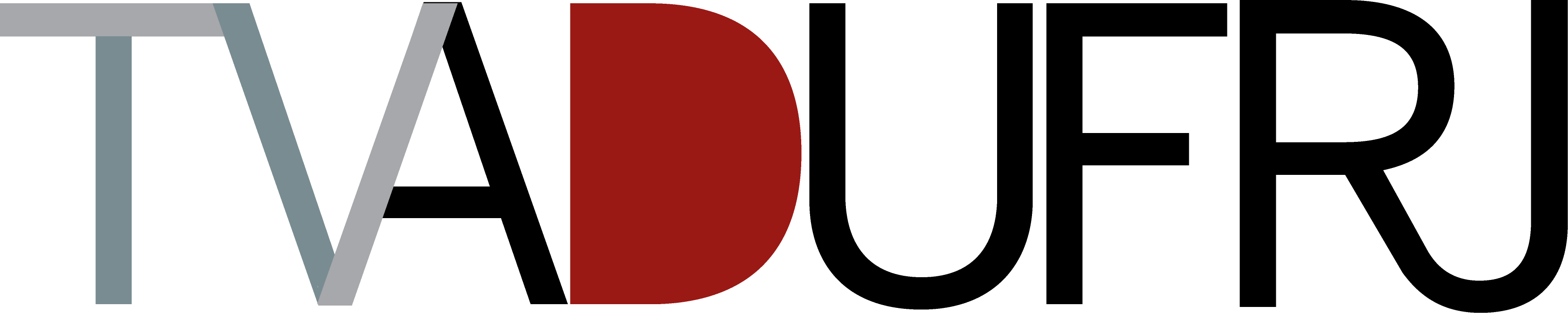Silvana Sá*
 Foto: Fabiano Rocha/Divulgação“Atenção, crianças, trocamos bandidos por balas”, gritava o policial, fazendo piada pelo alto-falante do Caveirão. Não foi uma vez, nem duas vezes que ouvi aquela chantagem macabra. O que eu escutava me dava medo. Eu sabia que não era do doce que eles falavam. Era da morte.
Foto: Fabiano Rocha/Divulgação“Atenção, crianças, trocamos bandidos por balas”, gritava o policial, fazendo piada pelo alto-falante do Caveirão. Não foi uma vez, nem duas vezes que ouvi aquela chantagem macabra. O que eu escutava me dava medo. Eu sabia que não era do doce que eles falavam. Era da morte.
Nasci na primavera de 1982 num quase cortiço em São Cristóvão, um prédio com banheiro comunitário e nenhuma privacidade. No inverno de 1985, mudamos para o Complexo da Maré, o conjunto de favelas em que cresci e aprendi muita coisa que uma criança não deve aprender.
Desde a primeira infância, aprendi a saber o som de tiro e a diferenciar quando o estampido vinha de um revólver calibre 38, de uma pistola calibre 22 ou de um fuzil. Também descobri cedo o barulho do blindado da polícia e os melhores esconderijos para não ser alcançada pelos petardos do helicóptero — quem cresce em comunidade sabe que “balas machucam”.
Tudo isso é exaustivo física e emocionalmente para quem vive na favela. Nesses 39 anos de existência, eu vi as coisas piorarem. A chacina desta quinta-feira (6) no Jacarezinho, que matou 25 pessoas, é a mais sangrenta da história. Por mais empatia que se tenha, não há como imaginar o que é presenciar o assassinato de alguém dentro da própria casa. “Me diz como minha filha vai dormir nesse quarto outra vez? Ela tem nove anos, executaram o cara aqui. Ela escutou tudo”, diz a mãe, cujo quarto e cama da criança estavam banhados de sangue. Banhados de sangue!
Muitas testemunhas afirmam que os policiais não queriam cumprir os 21 mandados de prisão. De fato, prenderam apenas seis pessoas. “Os meninos queriam se render, estavam acuados, abaixaram as armas, mas eles [os policiais] não deixaram, queriam matar. Mataram todos”, revelou um morador. Um dos corpos foi colocado sentado numa cadeira, às vistas dos moradores, com o dedo na boca. Era para servir de “exemplo”?
O exemplo que temos na favela é de uma polícia corrupta e de um Estado cúmplice do mal. A violência aumentou substantivamente nos últimos dez anos e explodiu com a ascensão de Bolsonaro e Witzel. Em 2019, a polícia fluminense matou 1.814 pessoas. O início da pandemia e o isolamento social foi convidativo à continuidade das operações violentas nas áreas mais empobrecidas da cidade, o que motivou o Supremo Tribunal Federal a proibir operações rotineiras. O ministro Edson Fachin usou o caso do menino João Pedro, de 14 anos, assassinado pela polícia em São Gonçalo, para exemplificar a barbárie. “Nada justifica que uma criança de 14 anos de idade seja alvejada mais de 70 vezes”, escreveu em sua decisão.
De junho, quando Fachin proferiu a liminar, até setembro, houve redução no número de assassinatos pela polícia. A média mensal caiu para 30 mortes (número absurdo, mas menor que as 150 mortes mensais de antes da decisão). Mas, desde outubro passado, os números voltaram a subir. Até março, foram registradas 434 operações policiais nas favelas do Rio, com 800 assassinatos.
O que fica perceptível é que o Estado não tenta acabar com o tráfico de drogas. O êxito da operação de quinta foi o massacre da população pobre e negra. O resultado é a negação do direito à saúde, à educação, à alimentação, à vida. Escolas não funcionaram, pessoas não foram vacinadas contra a covid-19 e as cestas básicas não foram distribuídas ontem no Jacarezinho. A favela, machucada, agonizante, segue em luta pela existência, eu sigo sobrevivendo entre a minha memória de um passado triste e um presente nada esperançoso.
*Jornalista da AdUFRJ, foi criada no conjunto de favelas da Maré