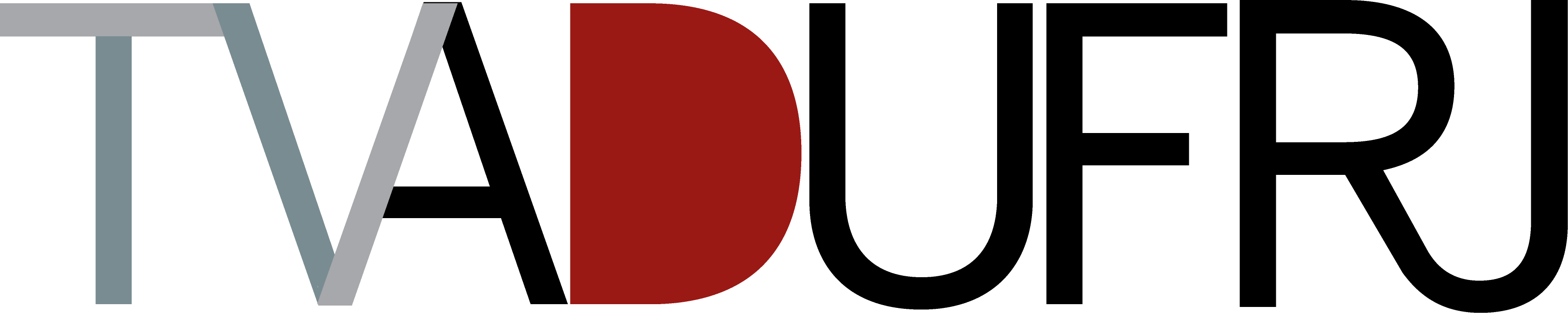O assassinato de George Floyd em uma ação policial em Minneapolis detonou uma vigorosa onda de protestos nas ruas dos Estados Unidos e colocou uma pergunta fundamental sobre a mesa de ativistas e cientistas sociais brasileiros: por que aqui, onde a brutalidade sofrida pelo povo preto é muito maior, as mobilizações contra o racismo não têm a mesma intensidade ?
O assassinato de George Floyd em uma ação policial em Minneapolis detonou uma vigorosa onda de protestos nas ruas dos Estados Unidos e colocou uma pergunta fundamental sobre a mesa de ativistas e cientistas sociais brasileiros: por que aqui, onde a brutalidade sofrida pelo povo preto é muito maior, as mobilizações contra o racismo não têm a mesma intensidade ?
Pesquisadores e ativistas da UFRJ explicam que a resposta tem raízes na história da escravidão de cada um dos países, atravessa a formação cultural e ideológica de americanos e brasileiros e perpassa a estrutura do movimento negro de lá e daqui.
“Nos EUA, houve um projeto de emancipação através do capitalismo, fortalecido pelas comunidades protestantes negras”, explica Fernanda Barros Santos, historiadora e professora de Ciência Política do Nepp-DH.
A docente lembra que os dois países experimentaram a escravidão, mas lá a articulação da comunidade negra com um projeto de ascensão social começou antes. “A formação dessas comunidades permitiu que os negros tivessem acesso à educação, sobretudo nos estados do norte, e até construíssem universidades, como Howard”. Já no Brasil, a abolição foi seguida de um projeto de abertura para a chegada de imigrantes europeus, que eram tratados como mão de obra mais qualificada que os trabalhadores de origem africana – embora não fossem.
A segregação também teve seu papel na construção da consciência negra dos norte-americanos. “No século XIX, o racismo científico era muito forte nos EUA, e foi a base de uma classificação hierárquica das raças”, conta a professora. Lá valia a regra de “uma gota de sangue” – qualquer pessoa com ascendência negra seria considerada negra, modelo que embasou as leis segregacionistas que perduraram até 1965.
Já no Brasil vigorou o mito de que a miscigenação diminuiria os conflitos raciais. Essa lógica funda uma falsa ideia de democracia racial, “como se a mistura biológica e ideológica acabasse com a ideia de raça, mas na verdade o que houve foi um massacre cultural”, interpreta Fernanda Barros Santos. “O antagonismo é muito bem desenhado nos EUA, não permite um racismo velado, mas um conflito aberto”.
MOVIMENTO NEGRO
Esse mito de democracia racial desarticulou por muito tempo os movimentos negros brasileiros. “Mas há também um apagamento da história de luta dos negros no Brasil. A resistência não é falada, mas escanteada, e ainda existe um resquício da ideia de que essa sociedade não é racista”, explica a pesquisadora. Essa fissura na identidade, o racismo velado e o ocultamento da história da escravização retardaram o surgimento de uma consciência negra aqui. Não à toa sabemos mais sobre a história de Martin Luther King – que era um intelectual e um líder religioso – do que sobre figuras negras brasileiras com histórico de luta semelhante.
A professora admite não ter dados para uma análise mais profunda que explique o tamanho das manifestações nos EUA, mas acredita que há uma conjunção de fatores, como o ressurgimento de movimentos racistas, sustentados por uma postura abertamente racista do presidente Trump, e a pandemia, que traz uma nova experiência de racismo, já que a Covid-19 é mais letal para as comunidades negras estadunidenses. “Essa conjuntura expôs que as condições são as mesmas. Essa ideia da letalidade do corpo negro em qualquer território que ele está alocado”, analisa.
ONDA CHEGA AO BRASIL
Os protestos americanos reverberaram no Brasil. No último domingo, coletivos negros foram para a porta do Palácio Guanabara. O estopim foi a morte do menino João Pedro Mattos, assassinado dentro de casa por policiais militares. “Houve também um forte chamamento do movimento negro americano, embora a gente saiba que nosso movimento não consegue ser tão coeso quanto o deles”, comparou Artur Miranda Sampaio, um dos coordenadores nacionais do coletivo Enegrecer.
Não foi só o assassinato de João Pedro que motivou o ato, mas também a escalada da violência policial. Durante os meses de março e abril, a letalidade policial no Rio aumentou em 19% em comparação ao mesmo período do ano passado. E as operações policiais em favelas não pararam. “As pessoas estão em casa e são pegas de surpresa pela operação”, explicou Sampaio.
O ativista não vê risco de os recentes movimentos em defesa da democracia ocuparem o espaço da luta contra o racismo. Para ele, ser antifascista e a favor da democracia passa por ser antirracista. “Para ser antirracista no Brasil, você precisa ser contra os governos federal e estadual do Rio. Não tem como apoiar um governo que tem a gente como alvo principal”, explicou.
PRETOS E BRANCOS
Nos Estados Unidos, as manifestações estão recebendo o apoio dos brancos, o que é considerado positivo estrategicamente, tanto em adesão numérica quanto em proteção da comunidade negra. “Primeiro, porque isso diminui a violência policial. Os pretos estão mais expostos às agressões físicas. Segundo, por uma questão de visibilidade. Infelizmente um ato político para ser validado nas grandes mídias precisa de um acesso à classe média, que é majoritariamente branca”, concluiu Sampaio.
Liv Sovik, professora da Escola de Comunicação da UFRJ, pesquisadora das relações raciais brasileiras, nascida na Suíça e criada nos Estados Unidos, acha que há uma espécie de inércia entre os brancos brasileiros quando se trata de engajamento nas mobilizações contra o racismo. “O branco brasileiro tem dificuldade de entender que faz parte da nacionalidade ser negro. E há uma série de jogos discursivos que enfraquecem o ato da militância negra”, analisa.
Para ela, a barreira de classes também cria um isolamento, já que as classes média e alta são majoritariamente formadas por pessoas brancas. “Há uma imaginação estereotipada que não identifica na população negra a legitimidade dos seus desejos, dos seus embates, das suas formas de vida, e que tem origem no não reconhecimento por séculos da sua humanidade”.
Na avaliação da pesquisadora, as pessoas brancas precisam ser antirracistas para romper com o racismo estrutural. “O que afasta a gente da luta negra é que continuamos repetindo os processos que submetem as pessoas negras à humilhação. É necessário ser antirracista para quebrar a forma como somos racistas”, defende a professora, para quem é preciso também alguma ação que vá além do autorreconhecimento enquanto racista. “Se culpar por ser racista tem que passar rápido, porque essa história de 400 anos de opressão não vai ser resolvida por atos de penitência. A consciência antirracista é uma espécie de autocura, e sem isso a gente nunca vai dar a volta. É preciso manter a cabeça aberta”.